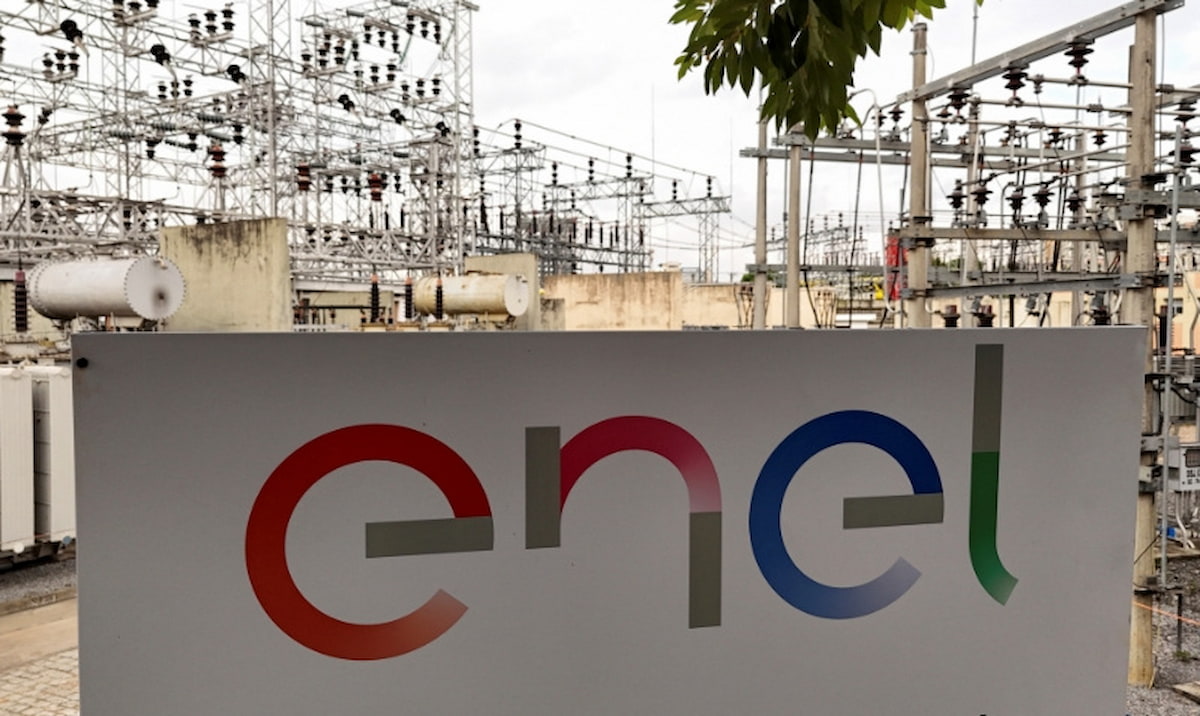Vigência da lei do abuso de autoridade

Neste mês de setembro de 2023 verifica-se que quatro anos se passaram desde a promulgação da Lei 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Dentro do ordenamento jurídico nacional, a existência desta normativa baliza o agir do agente público, servidor ou não que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, justamente pelo cargo ou função que está exercendo de acordo com os parâmetros fixados legalmente para tanto.
O parágrafo primeiro do artigo 1º descreve que “as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.”
Em tese, tem-se que primeiro vem o comportamento e, após, o regramento, ou seja, a sociedade no seu “plexo” de relações sociais vai construindo os conjuntos de ações que vão determinando os paradigmas dos comportamentos que direcionam o agir de todo tecido social.
Max Weber foi um sociólogo, jurista e economista alemão que é considerado pela história como sendo um dos fundadores da sociologia; diz ele que toda ação, especialmente a ação social e, por sua vez, particularmente a relação social podem ser orientadas, pelo lado dos participantes, pela representação da existência de uma ordem legítima, e que, para ele, a probabilidade que isto ocorra de fato chamamos de “vigência” da ordem em questão.
É nesse sentido, portanto, que se chega aos quatro anos de existência e vigência desta ordem legítima que disciplina condutas de agentes públicos na esfera de punir aqueles que usurparam das funções para as quais estão desempenhando seu papel de agente público, servidor ou não.
Mas poderia o agente público intuir a subjetividade de que certa ação social por ele praticada em determinado tempo e espaço não seria aquela tipificada pela lei em questão? Entende-se que não é a resposta a ser aplicada. De se lembrar, por relevo, que a lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro (LINDB) tem a taxionomia doutrinária como sendo um sobredireito, que visa regrar outras normas, objetivando orientar às demais, mas não no sentido de ser maior do que a Constituição Federal brasileira e, sendo assim, descreve no seu artigo 3º que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. A regra é clara, diria um famoso árbitro desportivo.
Não pode, portanto, o agente público praticar ações que vão de encontro justamente às posições que a sociedade, através de seus representantes legais, enfeixar na lei em apreço, como condutas nocivas à sociedade e, destas formas, passíveis das sanções que a própria lei descreve.
Antônio Medina Rodrigues, que foi professor de Letras Clássicas e Vernáculos, assevera que a narração é o ato de falar-se agora; já a narrativa, são os atos que o narrador mostra agora como vividos e, conseguintemente, já passados e a pressuposição é o deduzir-se ou imaginar-se alguma coisa, alguma ideia vai sendo expresso.
Numa conjunção das ideias até aqui apresentadas, construindo-se um raciocínio de silogismo, infere-se que qualquer que seja a narração, ou seja, o fato descrito agora, ou a narrativa, de fato que o narrador nos apresenta como já passado, não se pode pressupor que o agente público não tenha efetiva consciência de que a sua subjetividade desbordava a vigência da ordem legítima para conduta que, unilateralmente, vislumbrou como correta. Dessa forma, aplica-se, nestes casos, as subsunções de certas ações sociais destes agentes ao disposto nesta lei, pois o poder não se identifica com o direito sem que se vislumbre às devidas mediações estruturais, mormente quanto ao Estado, que não pode operar como entidade alheada das relações sociais.

Ouça a rádio de Minas