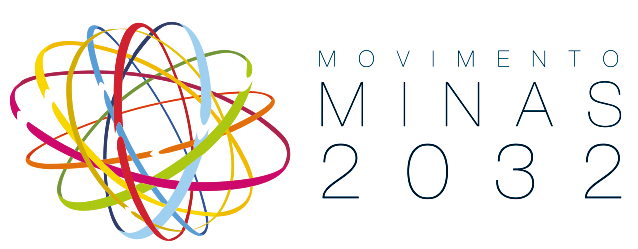Base da economia sofre influência indígena

Reconhecidos os únicos capazes de proteger e preservar as florestas e toda a biodiversidade que elas encerram, os povos tradicionais e originários – em especial os indígenas – muito mais que protetores, são detentores de um conhecimento que pode levar o Brasil e o mundo ao tão almejado desenvolvimento limpo, responsável e justo. Em uma palavra: sustentável.
Manejadores ancestrais da floresta, os povos indígenas, desde a época das grandes navegações e da chegada dos portugueses ao território hoje chamado Brasil, contribuem com seus conhecimentos e força de trabalho para produção de riquezas e formatação do modelo econômico desenvolvido no País.
Desde o compartilhamento dos alimentos com os portugueses, das plantas medicinais e o uso das trilhas e caminhos indígenas para o avanço pelo território até os atuais projetos de agrofloresta, até o reconhecimento mundial de lideranças como Aílton Krenak e o cacique Raoni Metuktire, e a criação do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), comandado por Sônia Guajajara, os indígenas tiveram papel fundamental para o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil.
De acordo com o professor de História do Brasil da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH/Unifesp), Jaime Rodrigues, os saberes compartilhados, na maior parte das vezes à força – com o emprego de mais ou menos violência a cada episódio – são muito anteriores àqueles momentos históricos.
“Quem domesticou o milho e a mandioca foram os indígenas, em um trabalho de muitas gerações, muito antes das invasões europeias. Isso foi importante não só para o hábito alimentar no novo território, mas como isso viabilizou o engenho da colonização. No caso do Brasil, a farinha de mandioca foi fundamental não só para consolidar a permanência dos portugueses aqui, mas também para viabilizar as navegações porque ela permitia que eles atravessassem o Atlântico de volta com um alimento que não ia se perder durante a longa viagem. Esse tipo de saber costuma pagar royalties, mas não acontece com os saberes indígenas. Um exemplo atual é a stevia, uma planta nativa da América do Sul. O conhecimento do poder adoçante é dos guaranis e a indústria de alimentos – especialmente os refrigerantes – usa muito. Ninguém paga nada aos guaranis por isso. Outro caso é a indústria de cosméticos que usa o murumuru como ativo hidratante. Para chegar nisso foi necessário o conhecimento dos Ashaninka, do Acre, mas como esse saber é visto como ‘coletivo’, sem um ‘dono’, ele não é remunerado”, explica Rodrigues.
Foi só em 2007 que a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a Declaração Universal dos Direitos Indígenas, da qual o Brasil é um dos signatários. No artigo 232, o documento assegura aos índios (termo usado na época), suas comunidades e organizações, como partes legítimas, o direito de ingressar em juízo em defesa de seus interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.
Mas o colonizador e o estado brasileiro que o sucedeu sempre legislaram sobre as nações indígenas. Da escravização ao trabalho compulsório até chegar ao status de autonomia enquanto indivíduos e comunidade, os indígenas percorreram e ainda percorrem um longo caminho marcado por lutas físicas e simbólicas repletas de opressão e violência. Nas palavras de Aílton Krenak, “Não terminou, ainda estamos em guerra”, no documentário “Guerras do Brasil.doc”, da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), em 2019.
A Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 215, determina que o Estado proteja as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras, e as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
O artigo 216, determina que deve ser promovido e protegido pelo Poder Público o patrimônio cultural brasileiro, considerando tanto os bens de natureza material quanto imaterial – o jeito de se expressar, ser e viver – dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira
“Do ponto de vista histórico, cabe ressaltar que esses povos e comunidades são marcados pela exclusão não somente por fatores étnico-raciais, mas, sobretudo, pela impossibilidade de acessar as terras por eles tradicionalmente ocupadas, em grande medida usurpadas por grileiros, fazendeiros, empresas, interesses desenvolvimentistas ou até pelo próprio Estado”, destaca a cartilha “Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais”, editada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).
Desde a promulgação da Lei nº 601, de 1850 – a Lei de Terras -, que estabelece a necessidade de registro cartorial e de documento de compra e venda para configurar dominialidade, se instaurou uma diferença no acesso e manutenção da terra por comunitários no meio rural. A Constituição Federal de 1891 transferiu para os estados as ditas terras devolutas, sobre as quais até então não havia sido reclamada a propriedade, reconhecendo o “direito de compra preferencial” pelos posseiros.
“Desde então, houve um amplo processo de invasão das posses de comunitários e comunidades, que, sem leitura e conhecimento das leis, sem recursos para pagar os serviços de medição das terras e registro em cartório, se viram em desvantagem em relação aos cidadãos letrados, que conheciam o sistema instaurado e tinham várias alianças. A presença de jagunços, advogados, e até agentes do Estado para defender interesses dessas classes mais abastadas ilustram a desigualdade na correlação de forças entre invasores e povos e comunidades tradicionais. Hoje, tais formas de expropriação de terras, territórios e direitos abrangem interesses do agronegócio, processos de exploração minerária, criação de unidades de proteção integral sobre territórios tradicionais, construção de hidrelétricas e outras obras e empreendimentos”, continua o documento.
Segundo o professor de História do Brasil do Instituto Federal Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), João Paulo Peixoto Costa, ser indígena, para além de uma questão identitária, é uma questão jurídica. E a história de escravidão, trabalho forçado e tutela do Estado explica o apagamento dos grupos indígenas da história oficial do Brasil e de hoje o preconceito que existe sobre eles.
“Isso foi construído. O discurso de que os indígenas foram exterminados ajudou na espoliação das terras ao longo do tempo. Hoje existem grupos isolados voluntariamente que têm outras concepções de trabalho e tempo. Não há esse anseio pelo acúmulo material. Para outras comunidades aproximadas a nós, o conceito de trabalho é assemelhado. É bom falar disso porque muita gente se surpreende com indígenas ocupando cargos como advogados, médicos, agricultores, políticos e até no agronegócio. Mas, no geral, a forma de se relacionar com a terra tem um diferencial gritante. Ser indígena é, antes de tudo, uma questão jurídica. Isso implica na garantia de direitos. Um ente com direitos especiais. À medida que a conquista avançou, o trabalho indígena continuou imprescindível para o branco conhecer o território, fazer e proteger as conquistas. O trabalho escravo indígena foi maior que o trabalho negro até o século 17, inclusive nas cidades. A questão indígena é mais étnica do que racial. Se a humanidade terá futuro, será pelos conhecimentos originários”, assinala Costa.

Direitos constam em declaração universal
Artigo 3º – Os povos indígenas têm direito à livre determinação. Em virtude desse direito, determinam livremente a sua condição política e perseguem livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural.
Artigo 4º – Os povos indígenas no exercício do seu direito à livre determinação, têm direito à autonomia ou ao autogoverno nas questões relacionadas com seus assuntos internos e locais, assim como os meios para financiar suas funções autônomas.
Artigo 5° – Os povos indígenas têm direito a conservar e reforçar suas próprias instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais, mantendo por sua vez, seus direitos em participar plenamente, se o desejam, na vida política, econômica, social e cultural do Estado.
[…] Artigo 8º
1. Os povos e as pessoas indígenas têm o direito a não sofrer assimilação forçosa ou a destruição de sua cultura.
2. Os Estados estabelecerão mecanismos efetivos para a prevenção e o ressarcimento de:
a) todo ato que tenha por objeto ou consequência privá-los de sua integridade como povos distintos ou de seus valores culturais, ou sua identidade étnica.
b) Todo o ato que tenha por objeto ou consequência alienar-lhes suas terras ou recursos.
c) Toda forma de transferência forçada da população, que tenha por objetivo ou consequência a violação e o menosprezo de qualquer de seus direitos.
d) Toda a forma de assimilação e integração forçada.
e) Toda a forma de propaganda que tenha com finalidade promover ou incitar a discriminação racial ou étnica dirigida contra eles.
[…] Artigo 10 – Os povos indígenas não serão retirados pela força de suas terras ou territórios. Não se procederá a nenhuma remoção sem o consentimento livre, prévio e informado, dos povos indígenas interessados, nem sem um acordo prévio sobre uma indenização justa e equitativa e, sempre que possível, à opção do regresso.
[…] Artigo 18 – Os povos indígenas têm direitos a participar na adoção de decisões em questões que afetem seus direitos, vidas e destinos, através de representantes eleitos por eles, em conformidade com seus próprios procedimentos, assim como manter e desenvolver suas próprias instituições de adoção de decisões.
Artigo 19 – Os Estados celebrarão consultas e cooperarão de boa-fé, com os povos indígenas interessados, por meio de suas instituições representativas para obter seu consentimento prévio, livre e informado antes de adotar e aplicar medidas legislativas e administrativas que os afetem. […]
Artigo 26
1. Os povos indígenas têm direito a terras, territórios e recursos que tradicionalmente têm possuído, ocupado ou de outra forma ocupado ou adquirido.
2. Os povos indígenas têm direitos a possuir, utilizar, desenvolver e controlar as terras, territórios e recursos que possuem em razão da propriedade tradicional, ou outra forma tradicional de ocupação ou utilização, assim como aqueles que tenham adquirido de outra forma.
3. Os Estados assegurarão o reconhecimento e proteção jurídica dessas terras, territórios e recursos. O referido reconhecimento respeitará devidamente os costumes, as tradições e os sistemas de usufruto da terra dos povos indígenas. […]
Artigo 29
1. Os povos indígenas têm direito à conservação e proteção do meio ambiente e da capacidade produtiva de suas terras, territórios e recursos. Os Estados deverão estabelecer e executar programas de assistência aos povos indígenas, para assegurar essa conservação e proteção, sem discriminação alguma.
2. Os Estados adotarão medidas eficazes para garantir que não se armazenem nem eliminem materiais perigosos em terras ou territórios dos povos indígenas, sem seu consentimento livre, prévio e informado.
3. Os Estados adotarão medidas eficazes para garantir, segundo seja necessário, que se apliquem devidamente programas de controle, manutenção e restabelecimento da saúde dos povos indígenas, afetados por esses materiais; programas que serão elaborados e executados por esses povos.

Conhecimento indígena manejou o mundo
Mesmo que o modo de viver e produzir dos povos indígenas brasileiros seja diferente do modelo ocidental herdado da Europa, eles fazem parte e se integram ao modelo econômico construído ao longo da história do Brasil.
Na atualidade, os chamados serviços ambientais são, talvez, os mais visíveis como uma forma de integração, mas as possibilidades são muito mais numerosas. De acordo com o assessor do Instituto Socioambiental (ISA), Jeferson Straatmann – que trabalha com a economia da sociobiodiversidade -, as comunidades foram e são detentoras, pesquisadoras e desenvolvedoras de um conhecimento profundo da biodiversidade e suas diferentes relações e manejo da natureza. E é um erro dar como sinônimo “floresta preservada” e “floresta intocada”.
“Esse conhecimento tradicional manejou o mundo todo. No Brasil, as estratégias de vida das comunidades permitiram as grandes concentrações das espécies arbóreas. Pesquisas mostram, por exemplo, que as castanhas na Amazônia não nasceram todas juntas por acaso, elas foram manejadas por comunidades indígenas. Falar que a floresta é intocada não é verdade. É um manejo que transformou a floresta em floresta, concentrando espécies úteis. O pequi só existe pelo manejo humano, indígena. Ele era distribuído pelos grandes animais e depois da extinção deles, só o ser humano conseguiria fazer esse trabalho. O mesmo com a araucária na região Sul. Os portugueses aprenderam a fazer esse manejo. Esse conhecimento deu origem à borracha e depois à borracha sintética e ao beneficiamento do petróleo, por exemplo”, explica Straatmann.
Todo esse conhecimento acumulado aponta para o futuro. Dono da maior diversidade do planeta, o Brasil é respeitado pela sua potência natural, capaz de gerar as próximas grandes descobertas em diferentes campos como alimentação, fármacos, materiais sustentáveis, tecnologias ambientais para o combate aos efeitos das mudanças climáticas, entre outros.

Para especialistas e estudiosos, dar concretude a essa potência é o grande desafio do Brasil e que pode levar o País a um salto de desenvolvimento, qualidade de vida para toda a população e uma posição de protagonismo diante da comunidade internacional. Isso, porém, só é possível com respeito, reconhecimento e trabalho conjunto com os povos originários.
“O que existe hoje é um grande preconceito. A gente não sabe o quanto usamos desse conhecimento tradicional. O manejo produz biodiversidade. A diversidade é segurança alimentar porque a monocultura não resiste a uma crise. O trabalho de diversidade feito pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) é reconhecido, mas o que é feito pelo indígena é desvalorizado. O conhecimento indígena já traz muito do que a nossa sociedade fala sobre sustentabilidade. A construção do nosso futuro passa por essa ancestralidade. Hoje falamos em bioconstrução, todas as moradias indígenas são assim. A agrofloresta já existia quando os europeus chegaram aqui. Quando falamos de economia circular, eles fazem. Nunca é tarde para voltar e pegar o que ficou no passado para construir o futuro. O que o Brasil tem de diferencial competitivo é a nossa biodiversidade. E ela não foi dada por Deus, foi manejada. Existe uma disputa entre os modelos econômicos. A economia da sociobiodiversidade gera tecnologia e conhecimento de vários novos produtos, formas de manejo, história, língua, cultura. A partir desse conhecimento podemos gerar benefícios financeiros”, destaca.
Os serviços socioambientais associados ao modo de produzir ancestral também geram dividendos econômicos. A Lei de Serviços Ambientais estabelece que como esse serviço como aquele prestado por pessoas de forma individual ou coletiva que gera conservação e promove serviços ecossistêmicos. A própria forma de existir naquele território é um serviço.
“Como hoje muitos desses serviços não são remunerados, as pessoas migram para as formas predatórias e o conhecimento se perde. Estamos matando conhecimento, tecnologia e futuro. Não é filantropia, tem um serviço sendo feito. Tem que criar mecanismos para que isso seja viabilizado”, avalia o assessor do ISA.

Mudanças climáticas
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), os povos indígenas dão contribuições inestimáveis para a preservação do meio ambiente e no combate à crise climática:
1. Proteção a 80% da biodiversidade: estima-se que os povos indígenas constituam apenas 5% da população global e seus territórios ocupem somente 28% da superfície terrestre mundial, mas, junto com famílias ribeirinhas, eles protegem e preservam 80% da biodiversidade mundial, entre animais, plantas, rios, lagos e áreas marinhas.
2. Restauração de florestas e recursos naturais: os povos indígenas não só pertencem ao ambiente em que vivem, mas se compreendem como tal, mantendo o respeito à natureza. Comunidades de pastores indígenas, por exemplo, cuidam das pastagens e do cultivo preservando fauna e flora. Nas montanhas, os sistemas de gestão preservam o solo, conservam a água e diminuem o risco de desastres. E, na Amazônia, povos indígenas defendem a floresta de queimadas, desmatamentos e mineração ilegal, protegendo a biodiversidade.
3. Tradições ricas em dietas diversificadas: atualmente, o mundo depende de um conjunto reduzido de culturas alimentares básicas, como arroz, trigo e milho, que fornecem apenas metade das necessidades energéticas para a nossa nutrição. Repleto de colheitas nativas nutritivas, como quinoa e oca, os sistemas alimentares dos povos indígenas podem ajudar a humanidade a expandir essa base restrita de alimentos e incluir diferentes ervas, grãos, frutas, animais e peixes cultivados de forma mais sustentável.
4. Safras mais sustentáveis: os povos indígenas cultivam uma variedade de espécies nativas que são adaptadas aos contextos locais. Essas safras geram menos poluentes e desperdícios, usam recursos naturais de forma consciente e são inspiração para uma agropecuária mais sustentável.
5. Práticas agrícolas adaptadas às mudanças climáticas: nações indígenas ao redor do mundo desenvolveram técnicas agrícolas que se adaptam melhor aos ambientes extremos, seja em altas altitudes ou pastagens secas. Terraços que evitam a erosão do solo e jardins flutuantes em campos inundados são métodos comprovadamente adequados para mudanças de temperatura e eventos climáticos.
“Os povos indígenas são parceiros inestimáveis no fornecimento de soluções para as mudanças climáticas e na criação de um mundo sem fome. Nunca alcançaremos soluções a longo prazo para as mudanças climáticas e para a segurança alimentar e nutricional sem buscar ajuda e proteger os direitos dos povos indígenas.” — Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), 2020.

Modo de vida dos povos originários é exemplo
Criado para promover o consumo consciente, o Instituto Akatu enxerga que consumo consciente exige também uma produção consciente. Ao trabalhar em parceria com comunidades indígenas, ficou claro para a gerente de Comunicação do Akatu, Bruna Tiussu, que o modo de vida dos povos originários pode e deve servir como exemplo para a construção de uma economia sustentável para o planeta.
“Existe um cálculo do ‘Dia da sobrecarga da Terra’. No ano passado ele mostrou que consumimos 74% mais do que a Terra é capaz de regenerar em um ano. Isso mostra que temos sistemas de produção e consumos insustentáveis. Quem não tem um sistema insustentável são os indígenas. Eles têm um modo de vida fundamentado na concepção do bem viver – em harmonia com a natureza. A preservação vem de um uso racional e sustentável dos recursos. Temos que entender essa forma milenar de viver e cuidar da biodiversidade. Não existe vida sem consumo e sem produção. Há maneiras mais sustentáveis de fazer isso, com o melhor impacto para o indivíduo, a comunidade e o planeta. A economia indígena é baseada na sociobioeconomia. Com enorme potencial para gerar riquezas, produzindo coisas com valor de mercado: alimentos, fármacos, étnico turismo. A floresta só fica de pé com pessoas produzindo”, alerta Bruna Tiussu.
Para que isso seja possível, porém, ainda são necessárias políticas públicas que protejam esses povos e saberes, fomentem relações justas de trabalho e comercialização. Além, claro, de empresas interessadas em construir relações respeitosas e de compartilhamento e não mais apenas exploratórias e que, ao fim viabilizem a oferta e o acesso aos produtos e serviços biossistêmicos que as comunidades originárias podem desenvolver.
“Quando falamos no desenvolvimento da sociobioeconomia é importante pensar em formas de nos aliarmos. Precisamos de políticas públicas para sairmos do modo exploratório para o compartilhamento, promovendo investimentos em ciência e tecnologia, facilitando o acesso ao crédito. O consumo consciente é uma oportunidade de fazer escolhas melhores dentro do contexto de cada um e forçar o mercado a relações mais justas e responsáveis”, avalia a gerente de Comunicação do Instituto Akatu.
No mesmo sentido caminha a análise da especialista em biodiversidade do Instituto Socioambienta (ISA), Nurit Bensuan. Para ela, apesar do extermínio e do apagamento dos povos tradicionais da memória nacional, da mesma forma que a sobrevivência dos brancos foi garantida por eles ao longo do processo de invasão e colonização, são os conhecimentos ancestrais que poderão garantir o nosso futuro como nação.
“A floresta é uma consequência do manejo realizado pelos indígenas. Isso aponta para o futuro. Não haverá conservação se esses povos não estiverem lá. Não vai existir formas de lidar com pandemias, mudanças climáticas se as soluções não partirem de lá também. O acesso a esses conhecimentos precisa ser construído em conjunto com eles, respeitando esse corpo de conhecimento autônomo e não subsidiário”, pontua Nurit Bensuan.

Foodtech Mahta promove consumo consciente
Às vésperas de completar um ano, a Mahta – foodtech que utiliza como base de seus produtos ingredientes provenientes de comunidades tradicionais da Amazônia e de pequenos agricultores que operam no modelo SAFs (sistemas agroflorestais) – comemora um crescimento de 28% ao mês desde a sua fundação. O super alimento produzido por ela é feito com ingredientes como o cacau, cupuaçu, açaí, coco, castanha-do-pará, taperebá, bacuri, graviola e cumaru. A meta é multiplicar por seis as vendas em 2023, alavancada por novos produtos.
De acordo com o sócio-fundador da Mahta, Max Petrucci, a empresa aposta no conceito de economia regenerativa e no trabalho colaborativo com as comunidades tradicionais. A economia regenerativa é apontada como solução para conciliar desenvolvimento econômico e responsabilidade socioambiental. É um sistema que deseja substituir a lógica de exploração de matérias-primas, produção e consumo, por uma lógica circular que se preocupa com o propósito e o processo de busca de matérias-primas, produção, consumo, reutilização, reaproveitamento, reciclagem e descarte final do produto. Ela propõe a tomada de decisões que atendam às necessidades das pessoas sem degenerar os sistemas naturais, com orientação de longo prazo, com o propósito de combater as desigualdades sociais e conservar a biodiversidade.
“Hoje a realidade da produção agrícola precisa ser modificada. Temos que olhar para a tecnologia verde como um alicerce indispensável para que as produções do agro nacional e internacional vislumbrem o futuro, com a preservação do solo e de todos os biomas do planeta. Não dá pra falar de floresta sem falar do homem. A gente tem que dar voz aos povos originários, eles têm que ter representatividade. Temos que encontrar o equilíbrio entre todos os homens. Acabar com a dicotomia entre o mundo espiritual e o material”, afirma Petrucci.

Para ele, as empresas, em especial as startups, podem desempenhar um papel fundamental na construção dessa nova economia baseada nos conhecimentos ancestrais e capaz de respeitar e preservar a natureza através de relações verdadeiramente sustentáveis, longe dos discursos vazios.
“Onde tem povos originários, a floresta fica mais preservada porque essas populações estão lá há milhares de anos desenvolvendo formas simbióticas com a natureza. Eles impedem o avanço descontrolado do homem branco. É mais um motivo pra gente defender as reservas indígenas e extrativistas, pautando um desenvolvimento baseado na regeneração. Devemos aprender as tecnologias dos povos da floresta, esquecer a monocultura que derruba a mata. Fazemos isso na medida da nossa capacidade na Amazônia com a Mahta e espero que muitas outras empresas possam fazer coisas parecidas ou inspiradas nesse propósito em muitos outros lugares”, completa o fundador da Mahta.

Ouça a rádio de Minas