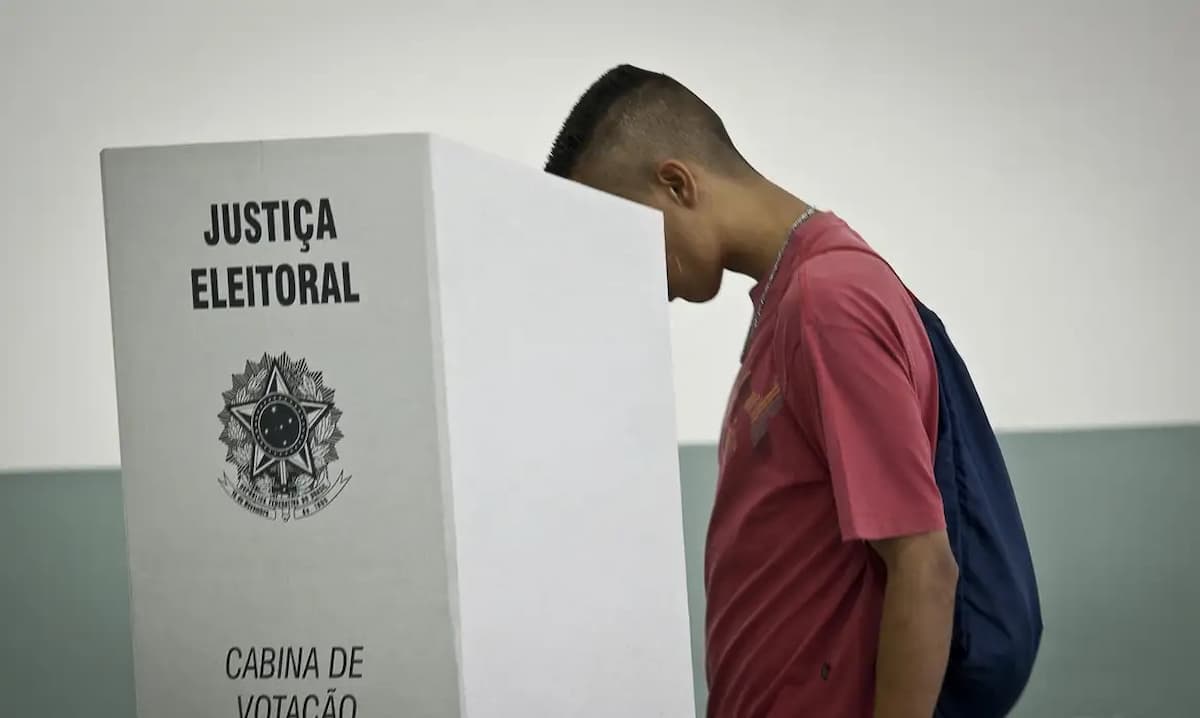Mulheres na ciência: desafios e desenvolvimento em Minas

As mulheres ocupam cada vez mais espaços, inclusive nas universidades e nos laboratórios, mas ainda assim seguem enfrentando preconceitos, dupla jornada, remuneração menor do que a dos homens, entre outros desafios.
Mas elas não desistem. De acordo com o relatório da Elsevier-Bori, “Em direção à equidade de gênero na pesquisa no Brasil”, lançado em março de 2024, nos últimos 20 anos a proporção de pesquisadoras que assinam publicações científicas no Brasil saltou de 38% para 49%.
Em relação a patentes de inovação, entretanto, houve estagnação no nível de participação feminina nos últimos 15 anos, quando a proporção variou de 3% a 6%. Quando os times são mistos, o índice subiu de 24%, em 2008, para 33%, em 2022.
E, para falar de suas histórias e das dores e delícias de ser uma mulher na ciência, o Diário do Comércio convidou a professora e pesquisadora da Fundação João Pinheiro (FJP), ganhadora do Prêmio Mulheres e Ciência 2024 do CNPq, na categoria Estímulo, Marina Alves Amorim, e a professora e pesquisadora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG), Adriana Akemi Okuma.
Professora Marina, você é formada em História pela UFMG. De onde veio o interesse pela ciência e por ser pesquisadora?
A minha opção nem era por ser professora. Lá atrás, eu queria ser arqueóloga. Na UFMG, naquela ocasião não havia ainda o curso de Arqueologia. Havia a possibilidade de fazer História, Ciências Sociais ou Geologia para tentar entrar nesse universo. Uma vez na universidade, porém, descobri que isso não tinha nada a ver comigo. Então, essa primeira escolha não deu certo, mas eu adorei o curso. Eu fui descobrindo que ali dentro tinha outras coisas que eu gostava e segui. Eu me formei, mas eu sou uma, vamos dizer assim, historiadora meio torta. Eu sempre trabalhei com o presente na pesquisa. Tem muita gente que ainda não reconhece o presente como um tempo da história.
Professora Adriana, você é técnica em Química Industrial formada pelo Cefet-MG e em Química pela UFMG. De onde veio o interesse pela ciência e por ser pesquisadora?
Minha origem é japonesa e minha família sempre trabalhou com padaria. Naquela época também a gente brincava muito de professora e eu sempre gostei. Ao mesmo tempo eu sempre fui observadora, queria entender a química do pão, como o pão cresce e por aí vai. Tudo isso, de certa forma, me despertou para ciências. A minha primeira professora de Ciências foi superinspiradora para mim. Depois, com o curso técnico em Química, eu me encontrei e resolvi seguir carreira. A Química tem conceitos básicos, mas eles permitem aplicação em diferentes áreas do conhecimento.
Marina, você faz parte do Grupo de Pesquisa Estado, Gênero e Diversidade, o Egedi, na Fundação João Pinheiro. Lá, as pesquisas colocam as mulheres no centro. Como funciona o Egedi?
Tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo que completou 10 anos, e que hoje eu tenho a honra de coordenar. Ele surgiu no final de 2014 para congregar diversas pesquisadoras da Fundação que atuavam em outros grupos, mas que já trabalhavam com gênero e, muitas vezes, com gênero e raça. Hoje somos um dos grupos mais conhecidos da Fundação. A gente faz muito barulho e muito trabalho. Já entendemos que a política pública pode resolver algumas coisas, mas ela não dá conta de tudo. Então, começamos dentro dessa missão que a Fundação tem de apoiar o desenvolvimento, o desenho, a implementação e a avaliação de políticas públicas pelo governo de Minas, sobretudo, e também de prefeituras e secretarias. Vou dar um exemplo do início do Egedi: a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado nos procurou dizendo: “Olha, nós temos uma série de políticas públicas já com um desenho específico para as mulheres, só que não entendemos por que, mesmo assim, as mulheres não estão conseguindo acessar essas políticas. Então, a gente precisa de um estudo mais qualitativo para entender o que está acontecendo”. Então, o Egedi se fortalece com essas demandas reais.
Nosso trabalho passa por coletar e organizar informações sobre as mulheres no Estado para entender quais são as necessidades delas em termos de políticas públicas. E passa também por um trabalho de pesquisa acadêmica propriamente dito. Foi uma junção feliz de pessoas que estavam muito dispostas a fazer um trabalho com as mulheres, mais do que um trabalho para as mulheres.
Fizemos, por exemplo, um trabalho que foi uma demanda da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que levou à produção de uma biografia coletiva de mulheres do campo. A gente fez a biografia e uma coleção de livros para crianças e adolescentes sobre temas que essas mulheres trouxeram. E fizemos uma parceria com a Rede Minas para produzir um material audiovisual. Eu, por exemplo, biografei a dona Jovita, que é uma extrativista da região de Diamantina, do Quilombo Mata dos Crioulos. Eu fiz o trabalho com a dona Jovita. Não foi a Marina escrevendo sobre a dona Jovita, é a dona Jovita e a Marina contando aquela história, sendo que dona Jovita não é uma mulher alfabetizada. E quando a gente volta lá com o livro que foi para a escola do campo, que fica dentro do quilombo, e que a gente lê a história, a dona Jovita diz: “Mas sou eu que estou falando”. Então, não é fazer “sobre”, é fazer “com”. Esse é o nosso propósito principal, lançando mão de muita epistemologia crítica, de epistemologia feminista, de muita história oral e desse trabalho muito participativo.
No seu discurso no Prêmio do CNPq, você agradece às cientistas feministas em um momento histórico em que as mulheres e a ciência têm sido sistematicamente atacadas. Fazer ciência é, também, resistir?
A gente sofre realmente ataques. Eu faço um trabalho com os estudantes, especialmente as meninas, de desconstrução. As pessoas falam de feminismo sem entender o que é, de onde vem, como se fosse o oposto ao machismo. Devemos honrar as mulheres que vieram antes de nós em primeiro lugar, porque se a gente estuda e trabalha, devemos a elas. Tem uma fala belíssima de Virgínia Woolf, em que ela conta que estava dando uma volta na biblioteca e que, antes, as mulheres não podiam entrar naquele espaço. E ela se pergunta quantas mulheres “Shakespeares” existiriam se as mulheres pudessem frequentar a biblioteca.
Venho de uma família em que a minha avó só foi cortar o cabelo quando o marido dela morreu. Primeiro o pai não deixava cortar o cabelo, depois o marido. E aí, quando o marido morreu, foi a primeira providência: ela cortou e o cabelo dela nunca mais deixou de ser “joãozinho”. O mundo mudou, mas nada disso nos foi dado de graça, basta assistir ao filme As sufragistas, que é a história do voto feminino. Eu faço esse trabalho com os estudantes de desconstruir o que a gente entende como feminismo. É um movimento pela igualdade em todos os espaços, inclusive na ciência. A gente não quer o espaço de ninguém, queremos o nosso. É preciso desromantizar a produção científica. A ciência surge como uma obra masculina. É uma questão de objetividade também. Temos que dizer de onde a gente fala para que as outras pessoas possam entender que tipo de pesquisa nós fazemos.
Adriana, você atua em um mundo ainda mais masculino, que é o da ciência exata. Como enfrentar o machismo estrutural?
São muitos desafios. Eu andei pesquisando e, segundo o CNPq, em termos de bolsistas nas exatas, menos de 20% no Brasil são mulheres. No cenário mundial, são 30%. Então, vejo que no Brasil a gente ainda tem esse problema maior, mais profundo.
Eu estou numa instituição em que até pouco tempo atrás era praticamente só Engenharia. E nas Engenharias os homens dominam. Com a criação de cursos de graduação em outras áreas, o cenário mudou significativamente no Cefet. Mas eu vejo que existe, ainda, essa predominância muito grande. É difícil, é muito árdua essa luta. Eu tenho sido feliz ao longo da minha trajetória, não tive problemas, mas talvez pelo fato de, embora a Química esteja dentro das Exatas, ela tenha um perfil mais feminino. Então, talvez por isso eu não tenha vivido essa grande resistência, mas eu vejo que, no contexto profissional das Exatas, somos tidas como uma fragilidade.
É muito difícil conciliar as muitas coisas que as mulheres atuam. A gente tem que, digamos, trabalhar muito mais para poder chegar ao mesmo ponto em que os homens chegam com uma certa facilidade. É uma luta diária e eu tenho incentivado as minhas colegas, as estudantes. O caminho é esse: a gente tem que se dedicar e mostrar que nós somos tão capazes quanto os colegas homens.
Falando um pouco mais do seu trabalho, você trabalha em duas áreas que me chamam muito a atenção, que é a “Química Verde” e a “Química Forense”, com o projeto “A Química como protagonista do CSI”. A Química está perdendo aquela “fama de má”?
A Química tem evoluído muito nos últimos anos, em especial a partir da década de 1980, quando começaram a surgir os primeiros conceitos da Química Verde. A palavra-chave da Química Verde é prevenção. Ela veio em contraponto com a Química Ambiental no sentido de que ela se preocupa com a remediação dos problemas que já existem. Na década de 1990, a Química Verde se estabeleceu como uma ciência.
Trabalhamos para resolver problemas em diferentes áreas e também para promover o desenvolvimento sustentável no sentido de produtos e processos que sejam econômica e ecologicamente corretos. Eu tive essa formação ao longo da minha pós-graduação. E quando eu comecei a carreira profissional, pensei: “eu preciso colocar isso em prática”. Foi muito difícil começar a carreira com uma ciência que, no Brasil, não era nem reconhecida. Eu consegui estabelecer o grupo de pesquisa de Química Verde no Cefet em 2013. E, a partir daí, surgiram várias colaborações muito valiosas com o setor produtivo e outras instituições também.
No caso da Química Forense, eu fui procurada pela perícia da Polícia Federal, porque eles estavam com uma demanda que outras instituições parceiras não conseguiram atender. Foi outro desafio enorme começar esse projeto com a perícia da PF. Era um grande projeto e a primeira parte ficou sob a minha responsabilidade, ou seja, se a minha parte não desse certo, tudo ia por água abaixo. Foi uma loucura, mas deu certo e a gente continua a parceria até hoje. Em todos os projetos desenvolvidos no grupo aplicamos os princípios da Química Verde, porque isso é uma questão de ética profissional.
Muitas pessoas não acreditam porque desconhecem e, ao desconhecer, não aplicam. Precisamos fazer com que seja realmente viável e transferido para os setores produtivos. Tenho um exemplo bem bacana e recente de uma dissertação de mestrado de uma aluna nossa no programa de pós-graduação em Tecnologia de Produtos e Processos, voltado para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, feito em parceria com a perícia da Polícia Federal.
Um grande problema são os materiais que são utilizados para revelar impressões digitais, tanto para a identificação de vítimas em grandes acidentes quanto para processos criminais. São materiais extremamente tóxicos, caros e importados. Conseguimos desenvolver um produto a partir de biomassa renovável, residual, com baixíssimo custo e uma eficiência similar aos produtos importados. Isso é fantástico porque é a Química aplicada na área forense contribuindo para a justiça, para a identificação de vítimas e não só isso, contribuindo para mitigar problemas ambientais, porque, se você trabalha com produto tóxico, no final ele vai para o ambiente e a questão da toxicologia ocupacional, porque muitos peritos estavam adoecendo por utilizarem rotineiramente produtos extremamente tóxicos nas suas atividades. Isso é super gratificante. A partir de biomassa residual, o que seria um resíduo foi transformado em um produto que vai trazer benefícios para a sociedade como um todo.
Vocês falaram da importância das referências. Vocês podem citar uma mulher cientista inspiradora, que as pessoas podem ler a biografia ou seguir nas redes sociais.
Eu, Adriana, vou falar de duas, uma no cenário internacional, que eu acho que todas devem ter conhecimento, que é a Marie Curie. Ela foi uma cientista notável, laureada com prêmios Nobel de Química e Física. E, no cenário nacional contemporâneo, foi minha professora e tenho uma grande admiração, a professora Rosemir Pereira de Freitas Gil, do Departamento de Química da UFMG e, atualmente, presidenta da Sociedade Brasileira de Química. Ela é superatuante, inclusive, divulga a ciência e promove a participação das mulheres, das jovens na ciência.
Eu, Marina, vou indicar duas nacionais. Na minha área, a professora Nilma Aguiar, já falecida. Ela foi professora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, é uma precursora dos estudos feministas no Brasil e uma das primeiras a trabalhar com essa temática aqui em Minas. Foi ela quem me apresentou o campo dos estudos feministas junto com a professora Sandra Azeredo.
E, de outro campo, a agrônoma e professora Mariângela Hungria, da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), de Ponta Grossa, no Paraná. Ela trabalha com a produção de adubos orgânicos e ganhou o “prêmio Nobel” da área dela recentemente. Ela diz que, na época, as pessoas riam porque tudo era agrotóxico. E hoje os produtos que ela criou são usados e geram uma economia de milhões para a produção agrícola e não agridem o meio ambiente.

Ouça a rádio de Minas